Diversos pesquisadores dedicaram uma vida para entender a lacuna que há da cor azul nos textos antigos
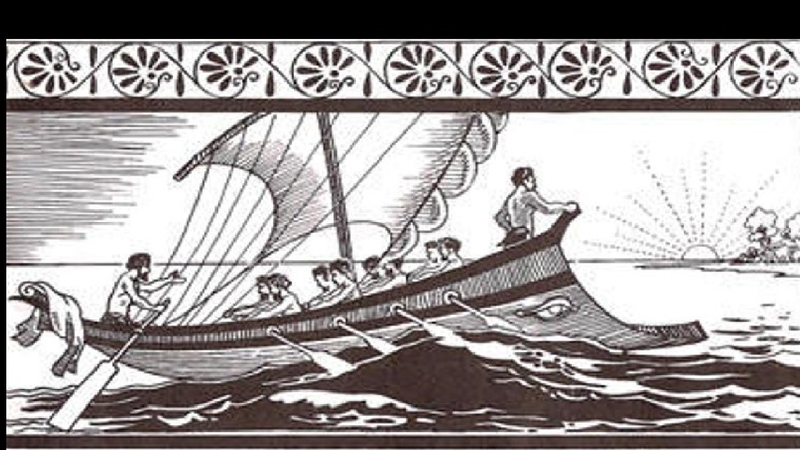
Desde o século XIX há uma atenção, por parte de pesquisadores da arqueologia e da filologia, no uso e no vocabulário em relação às cores no mundo antigo. O político e cientista britânico William Gladstone foi o primeiro a reparar a proeminência do uso do preto e do branco. E na análise dos textos gregos do período homérico reparou a completa lacuna do uso da cor “azul” no texto, mesmo se tratando de uma aventura marítima acompanhada pela ação celeste dos deuses.
A surpresa está, também, no fato de que a escrita homérica da Ilíada e da Odisseia ser repleta de menções a cores e dedicada a uma descrição minuciosa dos elementos da narrativa, fazendo-se estranha a completa ausência da referência ao azul, em nenhuma de suas formas conhecidas hoje.
Gladstone elencará a citação das cores nos textos gregos e concluirá que o preto e o branco são citados mais de 200 vezes cada, enquanto cores mais vivas como o vermelho só vão ser citadas menos de 15 vezes e o verde, assim como o amarelo, aparece menos de 10 vezes nas inúmeras linhas do poema. Passando para um amplo recorte cronológico, Gladstone averiguou a ausência do azul na literatura grega clássica. Concluiu que os gregos não desenvolveram bem a captação de cores, vendo o mundo essencialmente em preto-e-branco. Mas não era tão simples assim.
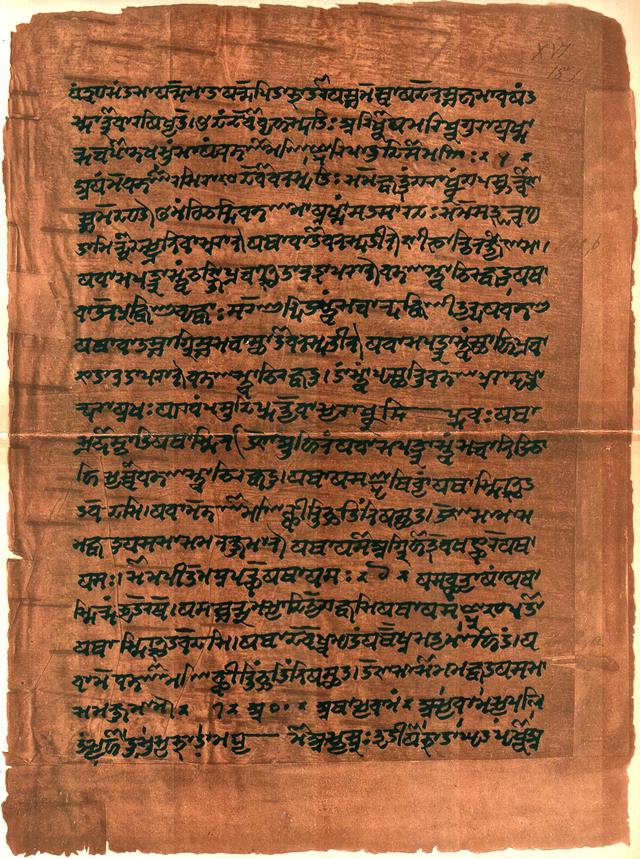
Os estudos de Gladstone vão inspirar o linguista alemão Lazarus Geiger, que expandirá seu recorte a todas as sociedades antigas que tinha acesso. Geiger irá analisar o Corão, as histórias chinesas, as Vedas do hinduísmo, a bíblia hebraica e sagas épicas islandesas. Relatou que em nenhum desses textos a cor azul é citada. O céu, os mares, diversos elementos hoje identificados como azuis eram bastante descritos e, mesmo assim, o azul não era uma realidade para esses homens. Mais do que uma lacuna do campo do vocabulário, os antigos não concebiam ou conheciam essa cor, que também não é muito comum na natureza.
Em consonância com as conclusões de Gladstone, reparou-se que há uma sequência de desenvolvimento da concepção das cores nesses textos, quando elencados a partir da cronologia: inicialmente, existem o branco e o preto. Depois, se desenvolve a noção de “vermelho”, seguida do verde e do amarelo.
O psicólogo Jules Davidoff exclama que em termos sociais não tem nenhum motivo acima do mundo dos homens para que os antigos conhecessem inevitavelmente a cor azul. Rebatendo a noção universalizante das cores, Davidoff coloca que as construções sociais em contato com o meio desenvolvem a concepção de cores, não sendo uma série natural de intervalos universalmente elencáveis. Os antigos, portanto, não teriam necessidade de usar o azul na descrição do céu e do mar que, inclusive, não são da mesma cor.
Davidoff, a partir da psicologia cognitiva relativa à acepção de vocabulário, fará uma pesquisa de campo na Namíbia, onde muitos grupos também não concebem o azul. Ao mesmo tempo, essas pessoas possuem uma diversidade de terminologias diferentes para o que no vocabulário ocidental é só a cor verde. Ao apresentar uma série de quadrados verdes de mesmo tom em que apenas um era azul, não houve a percepção da mudança da cor pelos namíbios. Porém, quando mudam os tons do verde, os quadrados são vistos como de cores diferentes.
Porém, será com Guy Deutscher que essa análise vai tomar tons elucidativos. O pesquisador irá recorrer a sua filha, que estava em fase de desenvolvimento vocabulário, para compreender o a associação entre o céu e sua cor.
Deutscher irá ensinar normalmente o nome das cores a Alma, sua filha. Porém, em nenhum momento ele identificará a cor do céu, para averiguar a associação que faria a criança. Alma só irá ser capaz de associar o azul a objetos pigmentados, que seriam abertamente azuis para a cultura em que estava inserida.
Depois de um tempo, Guy leva sua filha a um passeio em que o céu está aberto e azul. Ao perguntar a cor de objetos, ela sabia apontar o azul. Ao questioná-la sobre a cor do céu, Alma já não sabe responder. Fazia cara como se nem entendesse do que o pai estava falando. Depois de um tempo de reflexão sobre o caso, estando mais confortável com a palheta de cores, Alma chega ao pai e descreve o céu como branco.

Alma só começará a associar o céu à cor azul com seu primeiro contato com cartões postais em que há a impressão da cor.
Deutscher conclui que a concepção de “céu azul” não era tão óbvia como hoje a entendemos. Mesmo Alma, que conhecia o conceito de “azul” e foi culturalizada como usuária desta noção (muito diferente dos gregos antigos, que nem o azul conheciam), não concebeu o azul como a cor natural do céu. Azul, portanto, não seria uma “necessidade” (nos termos do autor) social de primeira ordem na época. A concepção de céu de dia (branco) e a noite (preto) será o fio condutor da visão cromática dos antigos, que associavam cores a objetos que passaram por pigmentação.
No campo do vocabulário, a noção de azul vai se desenvolver com o tempo. Termos como “kajol” (hebraico) e “kuanos” (grego) são nomes da cor preta mas que, com o desenvolvimento de cada grupo, serão resignificados e se tornarão as palavras para a cor “azul”.
Hoje em dia, uma dúvida ainda paira os estudos sobre o azul nas sociedades antigas: os egípcios, desde cedo, terão essa concepção e pigmentações de cor azul. Muito se fala nisso como resultado do desenvolvimento precoce dos egípcios na bacia do Nilo, fazendo com que suas mentes se tornassem mais complexas antes e a produção da tinta azul teria vindo muito antes das outras civilizações. O problema é que essa explicação facilmente descamba para uma visão evolutiva do desenvolvimento dos povos, o que já não é considerado válido para as Ciências Humanas.
